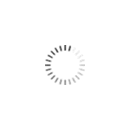Na pequena vila algarvia não havia quem não a admirasse e ao seu porte alto e esbelto sobre um caminhar que, mesmo dotado de uma óbvia nobreza, não deixava de ser feminino e natural, com algo que sempre seduzia todos os homens que encontrava. Nos dias de ofício religioso, à hora da saída da igreja, eram muito os varões, e até efebos, que se juntavam em alas de ambos os lados da ampla porta não só para a contemplar de mais perto, como quase para prestar homenagem a uma beldade inflamada onde era claro que a natureza não poupara, mas onde não se vislumbravam emoções no seu rosto de estanho. O seu cabelo loiro iluminava de luz tudo em redor, o olhar era vago, o de uma princesa de um reino incerto, e os seus passos ondulavam causando invejas entre o mulherio e um fascínio silencioso e patético entre o sexo oposto.
Pouco se sabia dela, e a mulher, além de dizer que se chamava Eva e que andava pela casa dos 30 e poucos, também pouco mais se dava a conhecer. Pouco se sabia, mas muito se comentava. Que chegara um dia sozinha à cidade, e como fora apenas poucas horas após um naufrágio a escassas milhas da costa do Barlavento algarvio, ficou associada a essa desgraça, que fora a única sobrevivente que se salvara da tormenta, enquanto o navio afundava com tudo o que nele havia. Dizia-se muito dela, mas a jovem de pouco se importava. A sua vida era um mistério.
Ia o século XIX já bastante adiantado e em toda a vila era o mar e o que vinha dele que enchiam o quotidiano de toda a gente. Direta ou indiretamente, as pescarias ao longo da costa e as artes marítimas mais afastadas dela, as dezenas de fábricas de conservas para onde as mulheres iam a pé e vinham derreadas de uma vida que era um relógio de parede, a venda de pescado na rua em açafates e com pregões, o conserto dos barcos e das redes junto ao areal, as sardinhas que se assavam junto aos passeios na altura delas, eram os atuns, as sardinhas, as lulas, e os sargos que davam o pão, o conduto e às vezes a fome − as alegrias e as angústias àquelas gentes. Todos se conheciam, ou por serem do mesmo sangue, ou do mesmo ofício ou de comungarem nas mesmas fantasias e desilusões, porque a nau de todos era a mesma. Aquela vida à espera do que o mar desse e do que o mar quisesse ninguém a escolhera, era sofrê-la, todos sabiam que há muito lhe fora destinada. Na vila, a vida era tão coesa como a interajuda nos barcos e o mutualismo nas desgraças. As casas humildes, rasas e cheias de brancura, as ruas planas e longas, as frestas e as janelas de onde se matava a curiosidade, as cortinas onde a curiosidade se escondia, ali tudo estava disposto para que sempre se desse fé de quem passava, numa curiosa vigília informal, universal e moralista, que escrutinava com olhares sempre à coca − e cravados sem contemplação, como duas mandíbulas firmes. Assim se sabia tudo, e com todos os detalhes, não só da vida de cada um, sobretudo se fossem senhoras – que eram também as mais ativistas −, como as razões de porque saía, e como, e com quem, e se era de manhã, ou tarde, ou à noite, e para onde... O urbanismo raso e aberto, e o todos se conhecerem dera azo àquela modalidade de voyeurismo tingido de má-língua, a que nem uma discreta tatuagem mais íntima podia escapar, completavam um mundo escancarado, onde até o céu era de um azul puríssimo e transparente. Aquelas vigilâncias indígenas eram não só um costume antigo, como uma marca de água da vila. Ali tudo era filtrado pelo crivo do falatório de estirpe censória e da moral pública. Como o peixe que caía nas redes lançadas. Um big brother socializado, universal e aceite. Por vezes davam em desavenças, tudo isso enquanto se vendia o peixe em calão ora hilariante, ora levemente ofensivo, ou se bebia um copo vertido nas fantasias poluídas e obscenas da taberna… Ali, a má-língua cumpria-se como um dever – e ficava como uma treva.
Mas, retirando as liturgias dominicais, onde eclipsava o próprio Sol, Eva apreciava uma vida crepuscular e reservada, decerto tinha razões ponderáveis para isso. Saía à noite, furtivamente, ocultando-se numa mantilha-saia comprida e negra e sempre embiocada. Sendo uma mulher independente, pouco dada a convenções − e muito menos a respeitá-las −, fazia questão de nessas alturas, pelo prazer do desafio, mas também por interesse e conveniência, em usar um bioco, tipicamente algarvio, a cobrir-lhe a cabeça, o rosto e alguma expressão do que sentisse. O bioco, uma espécie de rebuço que chegava à cintura, fora uma indumentária feminina muito comum e típica no Algarve, mas uns anos antes, em 1892, o governador da região, Júlio Lourenço Pinto, decidira banir por regulamento o seu uso na rua e nos lugares religiosos. Que aquilo era atraso sem elegância, coisa decadente, e já se estava prestes a chegar ao século XX. Que, com o bioco, as mulheres escondiam o rosto, que ficavam irreconhecíveis dentro daquelas máscaras, que dava azo a liberdades impróprias e a fidelidade conjugal estava em risco enquanto os maridos andavam em mar alto. Enfim, que era uma obsoleta herança da longa estadia dos muçulmanos no Algarve, um sucedâneo da burqa, onde as mulheres se escondiam e donde o seu olhar mais se acendia. Também podia ser usado por acanhamento, pobreza ou vergonha de quem caíra de alguma malaventurança. E, mesmo obsoleto, também servia aos homens que, querendo passar por aquilo que não eram, ou vice-versa, gostavam de na clandestinidade da noite fazer as suas visitas… De qualquer modo, o caso era considerado de desobediência e dava direito a seguir-se para os tribunais.
Pelo prazer de desafiar o fruto proibido, numa ética pessoana avant la lettre, Eva envergava vezes sem conta os biocos que tinha, era uma das suas formas de afirmação. Mas rápida e sibilina, furtava-se escudada entre as penumbras do lugar e ninguém conhecia o seu ou os seus paradouros. Por isso, muito daquele vulto-quase-fantasma se falava, sem sequer se saber de quem se tratava, apesar de se suspeitar pela altura e pelo modo de quase correr a saltar…. É verdade que, no tempo antigo de São Paulo Apóstolo, mulher de respeito cobria a cabeça e velava o rosto, quem os descobria era vista como prostituta. Mas agora, com o decreto do governador, podia parecer mais o contrário. E Eva dividia entre a opinião pública estas duas realidades: para uns, mulher-deusa de respeito, para outros uma meretriz que se escondia por detrás dos biocos e da noite. Um dia, alguém, também dividido na sua opinião, e mais hábil e astuto, decidiu segui-la entre as sombras e sem que ela notasse. Logo à saída da vila, Eva sempre de bioco e mantilha sobre o corpo, montou numa égua malhada, e esta troteou por entre bosques, mas sem sinais de marcas no chão, e saltou sobre um abismo para chegar a uma clareira iluminada por um estranho luar. Era aí que morava o seu amante, um deus grego e antigo. E o que o perseguidor viu a seguir deixou-o perplexo: Eva era apenas mulher da cintura para cima; abaixo, o seu corpo, e os membros sugeriam o de uma fénix mitológica, ora saltando, ora voando em torno do seu deus.
− Porque será que, sendo assim, quer passar por humana? − perguntou-se o espião ainda de atalaia.
Eva consumou o seu amor com o deus mitológico, subiu para uma pira funerária no centro da clareira, e a seguir deixou-se envolver pelo fogo, o cabelo, o rosto, o bioco e as penas da sua zoologia fantástica arderam num brilho leve e fugaz, enquanto o luar desaparecia.
No dia seguinte, logo de manhã, ao sair da missa, Eva voltava a irradiar toda a sua beleza e a seduzir outros humanos. Mas numa outra cidade, noutro continente, não pertencia a lugar algum deste mundo… Era este o fado do seu renascimento, o peso da sua imortalidade…