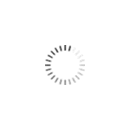Foi assim durante décadas... Sempre que rebentava a folha e as andorinhas chegavam, bandos de famílias juntavam-se porque sentiam que era chegada a vez de partirem.
Foi assim durante décadas, e ainda no terceiro quartel do século XX decorria com algum significado. Era como um pêndulo. E em massa. Bandos de famílias juntavam-se como num ritual importante porque era o da sua sobrevivência. Sempre que rebentava a folha e as andorinhas chegavam, ou já pela primavera adentro, eles sentiam tudo isso como sinais para lerem, e que era chegada a vez de partirem. Alojados sempre de modo precário no Tejo ou junto à maracha, e terminada a faina artesanal da lampreia, homens, mulheres, crianças, famílias inteiras e mais os animais, reuniam e partiam para Vieira de Leiria, trocando o rio doce, que na invernada fora o seu habitat de adopção, pelo mar que era o seu território natural, mas padrasto. Quando as inclemências da meteorologia ressurgiam e o mar se tornava de novo bravo e hostil à faina da pesca no Atlântico, lá voltavam a debandar e a trocá-lo pela brandura do Tejo e dos seus lugares de memória. Os avieiros viveram assim, nesta antropologia migratória, neste limbo de inquietações, escassez e fome, procurando num lugar o pão que o outro começava a recusar.
Migrações ao ritmo das épocas do ano
A história dos avieiros, a que o escritor neorrealista Alves Redol um dia chamou de “ciganos do rio” na sua épica narrativa sobre eles, inicia-se no seu berço de Vieira de Leiria, na foz do Lis, e a sua saga começa na pobreza, na fome e pelo instinto de sobrevivência, que é como começam quase todas as migrações que não são movidas pela ambição, pela gana ou pela conquista.
A saga principia, com pouca expressão, ainda no século XIX, quando as tempestades marítimas e a incapacidade de os pescadores de Vieira de Leiria se adentrarem pelo mar com as suas embarcações os torna incapazes para a faina e impotentes para fazerem chegar uma côdea de sustento a casa. E, empurrados pela escassez, começam a partir, até que em certa altura já quase todos o faziam. A grande vaga destes movimentos pendulares deu-se no final do século XIX e sobretudo nas primeiras décadas do século XX. Era preciso abalar para onde continuassem a ser o que eram, pescadores, o único ofício que conheciam, mas onde não houvesse mar, nem a sua braveza indomável. E foram chegando ao Tejo, às bordas d’água do Ribatejo, trocando o mar salgado pela água doce e tranquila do Tejo, e criando as suas comunidades e uma cultura única, porque única era também a sua vida e a realidade económica e social do seu quotidiano. Por Alhandra, Vila Franca de Xira, Porto da Palha, Lezirão, Póvoa de Santa Iria, Escaroupim, Ribeira de Santarém, Caneiras, Palhota, Patacão de Baixo, Chamusca, Arripiado e muitos outros locais, assentaram o poiso e viviam a sua colonização da mesma maneira que a sentiam. Chegaram a contar-se há 40 anos cerca de 80 destas comunidades ad hoc e de pequenos núcleos ribeirinhos. Procuravam o Tejo, mas pretendiam também sítios onde alguns esteiros, canais ou pauis os ajudassem na sua vida e nos seus proventos. Interessava-lhes ficar junto ao rio e nos seus braços, onde pudessem colher o sável, a fataça, a boga e o barbo, a saboga, a enguia, o robalo, o pimpão, a carpa e alguma lampreia, mas também precisavam de não ficar muito distantes de vilas e cidades, onde lograssem vender o peixe e com o pecúlio recebido comprar pão, algum conduto e outros escassos sustentos, tábuas para reparar os barcos e algum apetrecho para a pescaria.
Por tanto necessitarem do rio, viviam dentro dele, como se cada hora e cada minuto fossem decisivos. Quando não era o barco a sua habitação, viviam em casas singulares e um pouco insalubres que explicam, por si só, quase tudo sobre eles. E, nesta antropologia básica, as casotas palafíticas, em madeira e sobre estacas em madeira de oliveira ou de freixo, que iam pacientemente acartando, diziam que os avieiros deviam estar permanentemente de atalaia junto ao rio. Mas ao mesmo tempo deveriam resguardar-se contra as suas traições, como as cheias sazonais e a sua elevação sobre as estacas prevenia-os contra essas adversidades. Também os barcos usados os denunciavam, mas numa denúncia diferente, porque o que revelavam é que eram ali estranhos. Como era possível que usassem em pleno Tejo barcos com uma proa levantada, quando ali não havia nem um assomo de ondas levantadas para enfrentar e furar? A função ficava prejudicada, mas eles preferiam assim.
Uma condição que está no sangue
O casal de avieiros era uma unidade afetiva e uma singular sociedade económica. Não só em casa como, sobretudo, no barco e no rio. Os dois eram um casamento, uma equipa e uma sociedade. Era ela que, à proa, remava o barco a mor parte das vezes; para o homem, mais à ré, reservava-se nessa altura o arremesso das redes para o lance no troço do rio que eles cartografavam ao centímetro e conheciam como mais ninguém. E ambos detinham o conhecimento local dos hábitos e dos próprios horários e ciclos de vida dos seus inquilinos de guelras, espinhas e barbatanas. No intervalo das fainas adormeciam à vez, ela consertava o que era preciso ou adiantava a parca refeição, ele entralhava as redes da pesca. O peixe apanhado no lance era a base da dieta e da gastronomia principal da família, o excedente do cardume que caía na rede era levado até às praças das povoações mais próximas, onde tinham uma clientela certa que apreciava o paladar do peixe do rio. Algumas clientes eram tão certas que pediam às mulheres avieiras que lhes fossem levar os barbos ou as enguias a casa. E também vendiam porta a porta. Era a mulher que em geral se incumbia de levar peixe às povoações em cestos de verga, que o marido laboriosamente produzia, apregoá-lo e vendê-lo a uma clientela leal, e ela grata e dedicada pela fidelidade.
“Durante as cheias, os dois chegámos a tirar pessoas das aflições e as ovelhas e cabras de morte certa. Éramos a proteção civil da altura, sempre prontos, e chegámos a colaborar com os guarda-rios quando os havia”. Luís Fernandes, já adentrado nos sessentas, tem no sangue todo o legado avieiro entre o porto de Escaroupim, em Salvaterra de Magos, e o estuário do Tejo, mas confessa, sem pena, que essa memória avieira se está a perder, e possivelmente ele e a sua geração estiveram entre os principais responsáveis pelo elo que se quebrou na ligação entre as famílias de Vieira de Leiria e o Tejo. “A ligação à Vieira foi-se tornando mais mítica que real. Eu, por exemplo, nunca fui lá. Os meus pais, já falecidos, eram muito ligados à sua terra, mas a partir de certa altura deixaram de ir. Eles eram o casal típico da nossa cultura, quando jovens dormiram muitas vezes no barco, mas também me lembro de eles dizerem que na maioria dos lances com a rede vinham mais de uma centena de peixes, sobretudo o sável, que se vendia muito bem”, diz Luís Fernandes, notando que o pai já não queria aquela vida para si. “Ele, que era pescador, carpinteiro, agricultor de horta, seareiro, e parece-me que nunca o vi descansar, já não me puxava muito para o rio, e chegou-me a dizer que, se eu pudesse, escolhesse outra coisa, que a pesca era uma má sentença para um homem”, afirma. A partir da década de 1990, os descendentes dos avieiros pareciam ter ainda consigo o chamamento do rio e das bateiras, das noites a percorrer o rio ou da esperança que o sável entrasse nas redes. Mas também tinham a lucidez de olhar para o rio e para os pais e ver o óbvio. Aquela vida era mais uma condenação.
“Quando eu era rapaz, os meus pais, que eram primos, passaram também a cultivar umas terras à volta da casota onde fazia searas de melão e de tomate, para a campanha de verão, porque o peixe já não tinha a abundância de outros tempos. E eu comecei a pensar que também já não queria ir para o rio. Já tinha alguns estudos, e senti que era capaz de fazer mais que pescar e levar com o frio, a chuva e a humidade noturna do rio nas costas durante anos, tendo como única proteção um toldo de oleado por cima”, observa Luís Fernandes. Afastou igualmente os seus filhos das suas raízes, mas gostaria de ver um dia a cultura e os costumes avieiros terem o reconhecimento de um raro património intangível. “Eu já não aprendi a carpintaria que os avieiros conheciam para fazer os barcos, nem nunca peguei numa plaina [para tornar lisa a madeira] ou numa enxó [um cabo curto com uma chapa de metal capaz de cortar]; mas o meu filho, nunca pegou sequer num remo”, nota.
Nalguns locais a pesca ganhava mais escala, e um casal não chegava. As embarcações eram maiores, havia mais espécies, o rio alargava-se e também eram precisos mais homens para espalhar a rede, que podia chegar aos 300 ou 400 metros de comprido. A verdade é que quase tudo o que dava suporte ao viver dos “ciganos do rio” desapareceu. A começar desde logo pelo peixe, cuja abundância deu lugar à míngua das principais espécies, devoradas pelos temíveis lúcios, introduzidos como um exotismo no Tejo, e pelos corvos-marinhos, e também pelas intensas descargas poluentes, que tornam o rio impróprio para qualquer forma de vida em muitos dos seus troços. “A crise, porém, já começara décadas antes, quando construíram barragens, que impediam o sável de desovar porque o caudal ia baixo, ou porque as torrentes das descargas arrastavam as ovas postas”, opina Luís Fernandes.
A transição das atividades do avieiro, até o deixar de ser, passou em pleno pela família de Luís Fernandes em três gerações. “Hoje ainda vou pescar de vez em quando, na altura delas vou apanhar uma ou outra lampreia, que alguns peixeiros me compram para irem depois vender aos restaurantes, onde continua a ser uma iguaria gastronómica e cara”, diz o avieiro, notando porém que já só o é “pelo sangue”…
Uma cultura para defender para além da sua morte
A multifacetada cultura avieira está abandonada, tanto como os seus saberes técnicos, cuja transmissão geracional está em risco, e tanto como o seu património físico que na maior parte dos casos jaz à beira do Tejo. A sociedade avieira fechava-se sobre si própria − sobre as barracas, as bateiras e os saveiros, e a própria forma de trajar −, e este aspeto, apesar de manter os costumes incólumes, também a fragilizava. A bateira e o Tejo eram o centro do seu mundo. Na bateira, debaixo dos toldos armados, nasciam, pescavam, cozinhavam, nupciavam, criavam os filhos, adormeciam e envelheciam. No Tejo, o “jardim de peixe”, era assim que gostavam de a ele se referir, remavam, faziam os lances com a rede varina, captavam o sável e socorriam quem precisasse. E assim geraram o seu universo, que tanto se mostra nas técnicas da pesca, como na gastronomia, no traje, nas casas palafíticas, nas núpcias, na religiosidade mariana e nas próprias cores que escolhem para colorir a sua realidade e o seu contexto.
A pesca era um mundo de conhecimentos quase familiares, empíricos e herdados, que exigiam rigor, precisão e critério, quer nas tecnologias tradicionais da construção e reparação das embarcações, quer à volta das diferentes redes para as diversas espécies do Tejo. Havia as redes de tresmalho, as varinas, os botirões, as nassas, as tranquetes e o topa-esteiros. Quase tantas variedades como espécies tinha o rio e gastronomias tinham os clientes. Hoje importava transferir todas essas realidades, convertendo-as em fatores turísticos, recuperando um território cultural à espera de ser classificado como Património Nacional e até, dada a sua singularidade, em Património da Humanidade. “O turismo, com cruzeiros no rio por exemplo, é que devia ser o caminho, devíamos conseguir chamar até cá os turistas e mostrar-lhes as nossas tradições, alguma carpintaria capaz de fazer barcos e ensinar os mais novos no artesanato. A nossa cozinha, as nossas curas com ervas, quando não tínhamos médico, as nossas orações a Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo, e como viviam os nossos avós, isto é uma cultura que herdámos e não pode terminar assim”, defende Luís Fernandes, notando que este é o sentimento comum à maioria dos “avieiros no ativo”, que também se queixam de que cada vez se coloca mais dificuldades e restrições às suas pescarias.
Alguns acreditam que o futuro dos seus jovens ainda pode voltar a ser o rio. E não apenas em atividades ligadas ao turismo e à gastronomia avieira, com o sável frito, a açorda de sável, os torricados e a caldeirada de peixe à cabeça, e em restaurantes em casas palafíticas à beira-rio. O Tejo ainda pode voltar a dar trabalho, empregos e sustento nos lugares de memória dos avieiros. Mas para isso o rio há de ter que dar ainda uma grande volta. Falta saber se nessa altura ainda haverá algum avieiro que o queira ser…